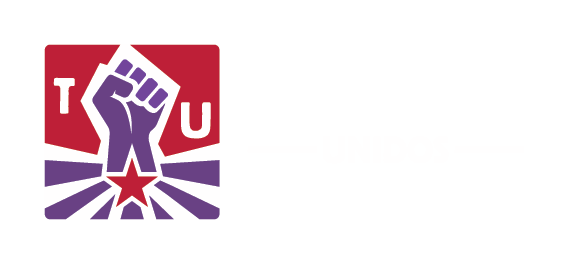A 30 de junho, realizou-se a audiência no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) sobre o conflito territorial de Essequibo. Esta decisão foi tomada após décadas de mediação fracassada da ONU ao abrigo do Acordo de Genebra de 1966, assinado entre a Venezuela e o Reino Unido alguns meses antes da independência da Guiana. Em janeiro de 2018, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pôs termo à sua mediação e remeteu a questão para o TIJ. A Guiana pede ao TIJ que valide a sentença arbitral de Paris de 1899, ao abrigo da qual o território em disputa foi atribuído ao Reino Unido. Este processo terminará muito provavelmente com uma decisão a favor da Guiana, dada a fragilidade da reivindicação venezuelana.
O governo civil-militar venezuelano está a desenvolver uma campanha de propaganda agressiva, acusando a Guiana de agir ao serviço do imperialismo norte-americano, em particular da Exxon-Mobil. A reativação da reivindicação venezuelana por Maduro em 2015 coincidiu com a descoberta de campos petrolíferos ao largo da costa do território, a chegada ao poder de um governo não aliado ao chavismo na Guiana e o declínio avançado do chavismo, que sofreu a sua pior derrota eleitoral neste ano. A ironia é que a reivindicação venezuelana de soberania sobre o Essequibo foi instrumentalizada pelos EUA no final do século XIX e em meados do século XX. Apenas a reivindicação de 159.000 quilómetros quadrados, 74% do território guianense, persiste até hoje como um atavismo das manobras reaccionárias dos EUA e dos governos burgueses venezuelanos da época. A única solução justa, e o que nós, venezuelanos, devemos exigir ao governo, é que o Estado venezuelano abandone a sua reivindicação, que, se inicialmente tinha legitimidade aos olhos do imperialismo britânico, perdeu-a completamente desde então, ao ponto de se tornar um instrumento de agressão contra um povo irmão das Caraíbas.
Outra ironia é o facto de nunca ter havido tantos venezuelanos no território de Esquibo como agora. Mas o contraste não podia ser maior com as fantasias épicas do nacionalismo expansionista: os venezuelanos que fogem pelo leste estão a escapar ao maior desastre económico e social da nossa história, em condições de absoluta miséria. Mais de três mil venezuelanos atravessaram nos últimos cinco anos para um país vizinho praticamente desconhecido dos venezuelanos, um país com o qual a única coisa que nos uniu foi um conflito absurdo engendrado por potências coloniais e imperialistas. Essas riscas num mapa, a chamada zona de recuperação, é outro engodo para a unidade de todas as classes na Venezuela, para que os oprimidos e explorados esqueçam a sua situação desesperada e façam causa comum com os seus opressores. Tanto o governo civil-militar como a oposição pró-ianque liderada por Guaidó estão envolvidos na operação de diversão.
Este conflito nunca fez parte das nossas preocupações e lutas, e poucos sabem como chegámos à situação atual. É por isso que é importante contar a sua história. É a melhor maneira de destruir a mistificação nacionalista e burguesa.
De vítima a agressor
O Essequibo nunca foi venezuelano, mas sim espanhol, como resultado da bula papal de 1493. Em 1596, os colonialistas espanhóis fundaram San Tomás de Guayana, que foi durante muito tempo o limite oriental da colónia espanhola. A colonização holandesa começou no início do século XVII. O Tratado de Munster com os holandeses estabelece uma fronteira que reconhece o controlo espanhol até ao rio Essequibo. Mas começa a colonização britânica. Em 1814, os Países Baixos cedem parte do território ao Reino Unido, a maior potência colonial do mundo, tendo o rio Essequibo como fronteira ocidental. Em 1831, os britânicos desalojam completamente os holandeses e fixam a sua atenção na cobiçada foz do rio Orinoco.
Tal como o território que viria a tornar-se a Venezuela, o território da Guiana foi palco de importantes rebeliões anti-escravatura no século XVIII. A independência da Grã-Colômbia e a sua secessão venezuelana ocorreram sob a égide de uma elite branca crioula proprietária de escravos. A escravatura foi abolida na colónia britânica duas décadas mais cedo do que na Venezuela, onde as guerras civis e a grande precariedade persistiram após a independência. A recém-independente república venezuelana não tinha, portanto, nada a oferecer aos indígenas ou aos antigos escravos da colónia inglesa. Os britânicos aproveitaram a fraqueza do seu vizinho ex-colonial e tentaram traçar a fronteira incorporando a bacia do rio Cuyuní, o que foi rejeitado pelas autoridades venezuelanas em 1841, dando início ao diferendo territorial. Em 1850, foi alcançado um acordo fronteiriço com os britânicos, que, no entanto, continuaram a colonizar para além do acordado, até à foz do Orinoco.
Bolívar foi um dos primeiros a propor a resolução das fronteiras das nações recém-independentes através da aplicação do princípio do Uti Possidetis: a nação independente herda os territórios que constituíam a colónia. A Venezuela exigiu que os britânicos respeitassem as fronteiras que tinha com a colónia espanhola. O problema é que essas fronteiras não eram exactas e estavam traçadas em territórios em grande parte desabitados, cujas populações indígenas não estavam ligadas a nenhum Estado. Em 1887, o avanço britânico provocou a ruptura das relações diplomáticas e o receio de uma invasão. Em 1895, o presidente norte-americano Grover Cleveland apoiou a Venezuela com base na Doutrina Monroe, que reivindicava o continente americano como sua esfera de influência. Após as ameaças bélicas de Cleveland, em 1897 as duas potências acordaram um mecanismo de arbitragem. A subordinação da Venezuela era tal que foi aceite que os EUA representassem os interesses venezuelanos na arbitragem. Em 1899, o Prémio de Arbitragem de Paris concedeu aos britânicos um território duas vezes maior do que aquele que tinham adquirido aos holandeses, embora à Venezuela tenha sido concedida a foz do Orenoco. Para o nascente imperialismo norte-americano era uma vitória obter o reconhecimento britânico da arbitragem, pelo que ficou satisfeito. Uma comissão binacional estabeleceu a fronteira aplicando os critérios da decisão arbitral, e a ditadura militar venezuelana de Gómez aceitou uma demarcação definitiva na primeira década do século XX. Em 1932, foi concluída a demarcação da fronteira entre o Brasil, a Guiana Inglesa e a Venezuela.
Só anos depois da morte de Gómez é que o parlamento venezuelano contestou a sentença arbitral, em 1944. Mallet Prevost, um dos advogados ianques que representou a Venezuela em Paris, deixou um testamento, publicado após a sua morte em 1949, denunciando as irregularidades do processo e a existência de um pacto entre o imperialismo britânico e russo. Em 1951, em plena ditadura militar venezuelana e perante as crescentes descobertas de jazidas minerais no lado venezuelano da fronteira, o governo venezuelano apresentou a sua contestação da decisão arbitral na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros das Américas. Para além dos desejos da direita militar venezuelana, a situação internacional alimentou o irredentismo venezuelano. Já não é um desafio ao imperialismo britânico, mas o seu oposto, um instrumento reacionário ao serviço do imperialismo contra a justa luta do povo guianense pela sua libertação.
O enfraquecimento do imperialismo britânico representa uma oportunidade para a burguesia venezuelana se posicionar como auxiliar da ordem capitalista e imperialista a nível regional. Em 1950, surge na Guiana o Partido Progressista do Povo (PPP), liderado por Cheddi Jagan, que vence as primeiras eleições para um governo autónomo limitado sob a soberania britânica em 1953. O imperialismo britânico dissolveu rapidamente o governo eleito para impedir que uma liderança anti-imperialista alcançasse a independência. Em 1955, sob os auspícios britânicos e americanos, deu-se uma cisão de direita no PPP, liderada por Burnham, que fundou o PNC. Em 1961, Jagan ganhou as eleições, já com um programa abertamente pró-independência, embora o seu esquerdismo nunca tenha ultrapassado o horizonte da colaboração de classes.
Em 1962, a Venezuela ignorou a arbitragem da ONU de 1899. Numa atitude reacionária, introduziu a questão territorial no comité de descolonização que discutia a independência da Guiana. O governo de Betancourt vê uma oportunidade de matar vários coelhos com uma cajadada só: parecer nacionalista, desviar as atenções dos problemas internos enquanto se desenvolve a luta de guerrilha inspirada na Revolução Cubana e servir os interesses estratégicos dos EUA na Guiana. Betancourt propôs ao governo britânico uma gestão conjunta da zona de Essequiba, sem a participação do governo, com uma autonomia limitada para a Guiana Britânica, uma proposta que não prosperou. As reivindicações territoriais foram utilizadas pelos EUA, determinados a não permitir “outra Cuba”, para extorquir o povo guianense a optar por um governo que não saísse das margens capitalistas. Os britânicos só reconheceram a independência da Guiana quando conseguiram impor um governo pró-ianque, chefiado por Burnham. Houve interferência venezuelana nas eleições de 1964 a favor de Burnham e do PNC, incluindo o fornecimento de armas sob a tutela da CIA. O parceiro júnior da coligação com o PNC, a United Force (UF), era claramente de direita e pró-ianque, apoiando a invasão do Vietname e da República Dominicana.
Em 1964, ano da eleição de Burnham, o governo venezuelano participou numa conspiração para encenar um golpe de Estado contra Cheddi Jagan, raptando-o e detendo-o na Venezuela, conforme registado em documentos do Gabinete do Historiador do Departamento de Estado. O chanceler Iribarren pediu o apoio dos EUA para a ação e se ofereceu para treinar mercenários guianenses em solo venezuelano. Os gringos não apoiaram a mudança; estavam a negociar um sistema de representação proporcional que garantisse que Jagan não chegaria ao poder, uma solução que acabou por ser imposta (ver https://www.stabroeknews.com/2015/07/26/news/guyana/venezuela-plotted-overthrow-kidnap-of-jagan-in-1964-us-document-says/amp). Em fevereiro de 1966, foi estabelecido o Acordo de Genebra, que deixou o diferendo em aberto por tempo indeterminado. Em outubro do mesmo ano, a Guiana tornou-se independente. Pouco antes, os Estados Unidos e a Venezuela apoiaram a formação do partido de oposição ameríndio, liderado por Anthony Chaves. Nesse mesmo mês, o exército venezuelano ocupa militarmente a ilha de Anacoco, na fronteira. Em abril de 1967, realizou-se em Kabakaburi, sob instigação venezuelana, uma conferência de líderes indígenas que apelou ao desenvolvimento binacional do território de Essequibo. Tratou-se de uma clara intensificação das agressões da burguesia venezuelana em pleno processo de independência da Guiana.
Burnham alegava que o PPP e o MIR venezuelano estavam ligados pela OLAS para promover a revolução socialista através da luta armada e utilizavam as ameaças e agressões venezuelanas para unir a população sob bandeiras nacionalistas e impedir qualquer rebelião popular. Em 1968, o governo venezuelano fixou unilateralmente as fronteiras marítimas e, em janeiro de 1969, foi lançada a revolta secessionista do Rupununi, em que os proprietários de terras de origem europeia e os seus empregados indígenas, armados e treinados pelo governo venezuelano, se insurgiram contra Burnham. Depois de o movimento ter sido derrotado militarmente, o governo venezuelano concedeu bilhetes de identidade venezuelanos e asilo aos membros do movimento, que estavam ligados ao partido de direita UF. A porta-voz do movimento, Valerie Hart, quando não conseguiu obter apoio militar direto da Venezuela, comparou o caso à Baía dos Porcos. Emilio Máspero, dos sindicalistas de Copeyano, manifestou o seu apoio aos direitistas de Rupununi. Calcula-se que setenta pessoas tenham sido mortas durante a repressão. A aventura tinha sido levada a cabo pelo governo cessante de Raúl Leoni, da Adeco. Caldera, um copeyano, tinha sido eleito em dezembro de 1968 e não tinha tomado posse. Mas os copeyanos manteriam a mesma linha de auxiliares do imperialismo nas Caraíbas. Em 1970, o governo venezuelano enviou armas para o regime de Trinidad e Tobago e mobilizou tropas para a costa leste durante a rebelião black power de abril nesse país.
Após anos de extrema tensão devido à agressão venezuelana, com o Protocolo de Port of Spain, os dois países deixaram a reivindicação territorial congelada de 1970 a 1982. Foi durante este período que a utilização da área reivindicada marcada por riscas nos mapas foi incorporada na propaganda oficial. Em 1974, o governo de Burnham tinha virado à esquerda. A PAC melhorou as relações bilaterais no contexto da nacionalização do petróleo na Venezuela e da nacionalização da bauxite na Guiana. Em fevereiro de 1982, utilizando o joker nacionalista, os Copeyano Herrera Campins conduziram uma mobilização com o slogan ‘El Esequibo es nuestro’, liderada pela juventude social-cristã, denunciando as relações da Guiana com Cuba. A guerra das Malvinas incita os sectores de direita a exigir a invasão da Guiana. Em abril de 1982, havia de facto movimentos de tropas venezuelanas na fronteira e os serviços secretos brasileiros consideravam iminente uma invasão da Guiana. Em outubro daquele ano, Herrera Campins realizaria o Massacre de Cantaura contra os militantes da Bandeira Vermelha. A fúria expansionista da burguesia estava sempre ligada a situações de repressão no país.
A incoerência do chavismo
Chávez teve uma aproximação com o Caricom e a Guiana, que incluiu no programa Petrocaribe em 2005. A Guiana também aderiu à CELAC e à Unasul. Em 2004, Chávez visitou Georgetown, seis meses antes do referendo presidencial revogatório, e declarou que não impediria qualquer desenvolvimento de infra-estruturas que beneficiasse diretamente a população da zona reivindicada. “A questão do Essequibo será retirada do quadro das relações sociais, políticas e económicas entre os dois países”, anunciou, dando a entender que a falta de acordo não poderia impedir o desenvolvimento das relações bilaterais. A oposição de direita acusou-o de trair o interesse nacional e de abandonar a causa do Essequibo, através de porta-vozes como Pompeyo Márquez, Jorge Olavarría, Ramón Escovar Salóm e Hermánn Escarrá, entre outros. Significativamente, o debate nunca se tornou central na política venezuelana, nem implicou qualquer custo político para Chávez, que ganhou o referendo por uma larga margem, demonstrando que teve a oportunidade de resolver este problema histórico e político com um custo político mínimo. Como em tudo o resto, o chavismo foi incoerente. Nunca foi formalizado um acordo definitivo. Assim que a maré política mudou, regressou à reação chauvinista.
No meio da decadência económica, política e social, o chavismo adoptou slogans militares como “O sol da Venezuela nasce no Essequibo”. Depois de a direita ter conquistado a maioria parlamentar em dezembro desse ano, a Assembleia Nacional nomeou uma “Comissão Parlamentar para a defesa do Essequibo”. Segundo Julio Borges, “chanceler interino”, o chavismo entregou o Essequibo a “Cuba” (?). Em setembro de 2019, o governo civil-militar denunciou o presidente da Assembleia Nacional, Guaidó, perante o Ministério Público, acusando-o de conspirar para entregar o Essequibo a empresas transnacionais, com base numa comunicação entre dois funcionários que discutiam o abandono da reivindicação para obter o apoio britânico.
Sectores da esquerda chavista e da esquerda independente capitularam lamentavelmente perante a posição do governo. O Partido Comunista da Venezuela, um dos partidos que apoiam o chavismo, alinhou totalmente com Maduro, repudiando a intervenção do TIJ e descrevendo-a como uma agressão imperialista para se apoderar do petróleo venezuelano e apelando à coesão nacional (ver https://primicias24.com/nacionales/273353/pcv-denuncia-subordinacion-de-la-cij-ante-monopolios-imperialistas-en-disputa-territorial-del-esequibo). Outras expressões de expansionismo nacionalista são revestidas de um verniz ecológico, celebrando que o atual status quo está a travar o desenvolvimento económico do Essequibo, ou então atribuindo ao Estado burguês venezuelano um papel messiânico e ambientalista, como protetor dos recursos naturais, para além do deplorável historial do Estado venezuelano na administração do seu próprio território, apelando mesmo à repetição da fracassada agressão do movimento do Rupununi, através de uma instrumentalização dos povos indígenas da zona. Todos estes argumentos devem ser repudiados. A anexação do território guianense por qualquer uma das duas facções políticas da burguesia venezuelana não traria qualquer benefício para o povo trabalhador venezuelano ou guianense.
Analisemos a comparação feita noutra altura entre a pretensão da Argentina às Malvinas e o litígio do Essequibo. Trata-se de uma analogia incorrecta: as Malvinas foram usurpadas pela Grã-Bretanha à Argentina, e não pelo colonialismo espanhol, e as ilhas continuam hoje sob ocupação britânica. Na realidade, a pretensão da Venezuela ao Essequibo assemelha-se mais à pretensão de “recuperar” a ilha de Trinidad, que era uma colónia espanhola sob a mesma unidade administrativa do que viria a ser a Venezuela após a independência. Uma vez que a Venezuela não tem quaisquer laços culturais, sociais ou económicos com esse território, prevaleceria a invocação por Trinidad do princípio do Uti Possidetis para a totalidade do seu território na altura da independência da potência colonial britânica. O mesmo é válido para o caso da Guiana. Uma reivindicação justa contra uma potência colonial agressiva e expansionista, o Império Britânico, uma reivindicação que a Venezuela não podia sustentar pelos seus próprios meios sem recorrer à ajuda ianque, que nunca foi desinteressada, perdeu toda a sua legitimidade em 1966, quando a Guiana conquistou a sua independência. A Guiana tem direito a todo o território que constituía a então colónia, incluindo os territórios que os britânicos usurparam aos espanhóis e que a Venezuela não conseguiu recuperar durante mais de um século. Já no contexto do processo de independência da Guiana nos anos 60, as exigências venezuelanas desempenharam um papel reacionário no âmbito de uma estratégia de agressão dos EUA e do Reino Unido contra o povo guianense.
A anexação de um território com o qual não temos laços culturais ou históricos, sem uma população que se reivindique venezuelana, só poderia ser efectuada militarmente. Uma resolução diplomática ou judicial favorável à Venezuela é impossível. Assim, as ilusões nacionalistas esbarram nos limites impostos pela realidade. É preferível reconhecer que a Venezuela foi derrotada, não agora mas no século XIX, e que já não pode ajustar contas com o agressor Império Britânico. A falsa pretensão de agressão contra um país muito mais pequeno e pobre, com uma população de menos de 800.000 pessoas, deve ser absolutamente rejeitada pelos verdadeiros revolucionários e democratas da Venezuela. No interesse dos povos da Venezuela e da Guiana, a única saída é a retirada unilateral da reivindicação venezuelana e a negociação bilateral das fronteiras marítimas. O governo civil-militar de Maduro não tem nem a dignidade nem a coragem de dar esse passo.
Para o povo trabalhador venezuelano, hoje mais do que nunca, é claro que a nossa libertação só pode significar uma coisa: remover a Boliburguesia do poder pelos nossos próprios meios, derrotando a máfia Trumpista da oposição parlamentar e tomando o nosso destino nas nossas próprias mãos. Qualquer coisa que nos distraia dessa tarefa é criminosa. Uma vez libertados das cadeias deste infame regime civil-militar, teremos muito que fazer no nosso próprio território, destruído e pilhado pelas transnacionais e pelo crime organizado. Não somos culpados dos crimes cometidos pela burguesia venezuelana, tanto a puntofijista como a boliburguesa, mas despidos de ilusões expansionistas podemos abraçar plenamente a nossa verdadeira e premente tarefa atual.