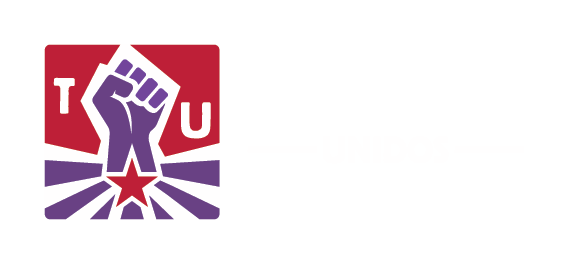A segunda volta das eleições presidenciais ficou marcada por um resultado aparentemente inequívoco: a vitória esmagadora de António José Seguro, com 66,8% dos votos, contra 33,2% de André Ventura. No entanto, uma leitura política séria destes números exige ir além da fotografia final e analisar a dinâmica concreta do voto que produziu este desfecho.
Desde logo, é impossível dissociar este resultado do voto contra Ventura. Seguro foi muito além dos seus sonhos mais ousados e bateu dois recordes históricos nas presidenciais — a maior percentagem de sempre, ultrapassando Ramalho Eanes, e o maior número absoluto de votos, superando Mário Soares. Mas estes recordes dizem muito menos sobre uma adesão política entusiasmada ao candidato do PS do que sobre a rejeição social ampla do candidato da extrema-direita.
Este dado torna-se ainda mais significativo se recordarmos que, durante boa parte da corrida à primeira volta, chegou a estar colocada a possibilidade de Seguro nem sequer passar à segunda volta. A passagem de 1 milhão e 740 mil votos na primeira volta para 3 milhões e 483 mil na segunda não resulta de uma súbita mobilização em torno do seu projeto político, mas de uma convergência defensiva, transversal, para impedir a eleição de Ventura.
Também do lado da extrema-direita, os números ajudam a desmontar narrativas. Ventura passou de 1 milhão e 315 mil votos para 1 milhão e 729 mil — um crescimento real, mas muito aquém do discurso triunfalista que o próprio alimentou. Desde o início, Ventura teve como objetivo central capitalizar politicamente a campanha presidencial para reforçar a sua posição nas próximas legislativas, não para ser efetivamente eleito para Belém. Nesse sentido, chegou mesmo a assumir como meta para a segunda volta igualar ou ultrapassar o resultado de Luís Montenegro nas últimas legislativas, apresentando-se como novo líder da direita.
No entanto, mesmo num cenário altamente polarizado, com apenas dois candidatos em disputa, Ventura revelou dificuldades claras em alargar a sua base eleitoral. Na primeira volta, os restantes candidatos de direita — Cotrim de Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes — somaram cerca de 2,2 milhões de votos. Desses, Ventura conseguiu captar apenas cerca de 400 mil na segunda volta. Segundo a sondagem à boca das urnas do ICS-ISCTE/GfK, Ventura terá recolhido cerca de 31% dos votos de Cotrim (equivalente a perto de 300 mil votos), complementados com alguns votos mais residuais vindos de Gouveia e Melo e Marques Mendes.
Este limite à expansão do Chega é também visível na distribuição territorial do voto. O mapa dos resultados da segunda volta ficou inteiramente pintado a rosa, com Seguro a vencer em todos os distritos do país. Este dado é particularmente significativo no Algarve, onde o Chega tinha sido a força mais votada nas últimas legislativas. Ainda que Faro tenha sido o distrito em que André Ventura mais se aproximou de Seguro, nem aí conseguiu inverter o resultado. Longe de traduzir uma adesão entusiástica ao candidato do PS, esta distribuição territorial confirma antes a existência de uma rejeição ampla e transversal da extrema-direita, incluindo em regiões onde o Chega dispõe de uma base social relevante.
Este dado é politicamente decisivo: mostra que, apesar de ter uma base sólida, estimável hoje em cerca de 1,5 milhões de eleitores, a extrema-direita não dispõe de uma autoestrada aberta para os 2 milhões, mesmo quando o campo está reduzido a uma escolha binária. Há espaço para crescimento do Chega? Sim. Mas há também resistências profundas, sociais e políticas, que travam essa expansão, sobretudo quando se coloca a hipótese concreta de acesso a cargos centrais do regime — resistências que se explicam tanto pela rejeição do discurso autoritário como pelo medo real das consequências de um poder reforçado do Chega.
A contradição central destas eleições é, portanto, clara: o regime “respira de alívio” com o desfecho em Belém, mas sai destas presidenciais mais tensionado. Este resultado, de certa forma, reorganiza o tabuleiro político e prepara novos confrontos adiante.
Governo, PS e Chega após as presidenciais
O resultado da segunda volta não pode ser lido como um simples momento de estabilização política. Embora o regime, no seu conjunto, respire de alívio com a eleição de um Presidente fiel às suas regras e equilíbrios, o impacto destas presidenciais sobre o Governo, o PS e o Chega é desigual e contraditório.
No essencial, os resultados das presidenciais pouco ajudam a clarificar o concurso em curso entre o PS e o Chega sobre quem se afirma como principal força de oposição ao Governo. O Chega sai reforçado na sua base eleitoral e na sua capacidade de pressão política, enquanto o PS conquista a Presidência da República com uma votação histórica — ainda que profundamente marcada por um contexto excecional e por um voto defensivo que nada tem de comparável com anteriores vitórias presidenciais.
Nenhum dos dois obtém, por esta via, uma hegemonia clara no campo da oposição: o Chega consolida-se como força de protesto e desestabilização, mas enfrenta limites sociais evidentes; o PS ganha uma posição institucional privilegiada, mas sem traduzir isso, para já, num reforço da sua influência social ou eleitoral. A definição de quem disputa efetivamente a oposição ao Governo não será decidida em Belém, mas no terreno dos conflitos sociais e políticos que se avizinham.
O PSD: o regime respira de alívio, o governo nem tanto
Nos últimos vinte anos, a Presidência da República esteve sempre nas mãos do PSD, primeiro com Cavaco Silva e depois com Marcelo Rebelo de Sousa. A derrota do PSD nestas presidenciais marca, por isso, uma rutura simbólica importante que fez com que o Governo saísse fragilizado destas eleições, já desde a primeira volta.
O candidato assumido da AD, Luís Marques Mendes, ficou relegado para um humilhante quinto lugar, com apenas 11% dos votos. Já Henrique Gouveia e Melo, apresentado como “independente” mas apoiado por amplos setores do PSD (e também do PS), terminou em quarto. Estes resultados revelaram a incapacidade do Governo e do PSD de mobilizar um candidato viável à Presidência, transformando a primeira volta numa derrota política.
É neste contexto que deve ser lida a segunda volta. A eleição de António José Seguro garante ao regime um Presidente previsível e institucionalmente responsável, mas não resolve automaticamente a fragilidade do Governo. O cenário mais provável no curto prazo não é o de uma crise política iminente, já que tanto Montenegro como Seguro fizeram questão de sublinhar a necessidade de pôr termo ao ciclo de legislaturas interrompidas e dissoluções sucessivas que marcou os últimos anos.
No entanto, o Governo vai acumulando desgaste e deixando evidentes fragilidades na equipa de ministros – nomeadamente na gestão dos incêndios e das tempestades, que agora levou à demissão da ministra da Administração Interna -, fatores que podem contribuir para a instabilidade do governo, em particular tendo em conta a tendência ao agravamento das condições de vida.
O PS: vitória institucional, com um novo instrumento político nas mãos
O PS reivindica legitimamente a vitória em Belém, mas fá-lo de forma contida e reveladora. Durante a campanha, sobretudo na primeira volta, os seus principais dirigentes estiveram relativamente ausentes. O atual secretário-geral, José Luís Carneiro, limitou-se a uma presença discreta na noite eleitoral da segunda volta, evitando qualquer tentativa de transformar o resultado numa vitória partidária exuberante.
Esta atitude reflete uma realidade conhecida: ninguém acredita que a eleição de Seguro, por si só, altere significativamente a correlação eleitoral entre PS e AD. O voto que garantiu a vitória histórica foi maioritariamente um voto defensivo, não uma transferência automática de confiança política para o PS enquanto alternativa de governo.
Ainda assim, o controlo da Presidência da República oferece ao PS uma ferramenta política relevante. Através do veto, da intervenção pública e da capacidade de condicionar a agenda política, Belém pode funcionar como espaço de diferenciação face ao Governo e como ponto de apoio numa eventual disputa por eleições antecipadas. Trata-se menos de um “regresso do PS” e mais de uma posição institucional vantajosa num contexto de instabilidade latente.
O Chega: consolidação como oposição, com limites à hegemonia à direita
Apesar da derrota, André Ventura não sai destas presidenciais politicamente enfraquecido. Pelo contrário, atinge o melhor resultado da sua história eleitoral, reforça a sua visibilidade e consolida-se como o principal polo de oposição ao Governo no plano parlamentar e mediático.
A candidatura presidencial cumpriu, em larga medida, os seus objetivos estratégicos: ampliar a base eleitoral e projetar Ventura como figura central da vida política nacional. Neste sentido, a presidência nunca foi um fim em si mesmo, mas um passo intermédio no caminho para as próximas legislativas.
No entanto, os limites desta consolidação são igualmente claros. Ventura falhou o objetivo de igualar ou ultrapassar a votação da AD e não conseguiu agregar o conjunto do eleitorado de direita. Existe uma direita moderada, socialmente relevante, que prefere votar num candidato do PS a abrir a porta a uma presidência da extrema-direita. Isso impede, pelo menos por agora, que Ventura se afirme legitimamente como “líder da direita”.
Ainda assim, o resultado dá-lhe margem para aumentar a pressão sobre o Governo, explorar cada crise social e testar cenários de instabilidade política, incluindo a possibilidade de eleições antecipadas.
Os problemas no horizonte: resposta a catástrofes e reforma laboral
As eleições presidenciais funcionaram como antecâmara de um período de tensões sociais e políticas que colocará à prova o Governo, o novo Presidente e o próprio regime. O verdadeiro teste à correlação de forças saída das urnas não se dará no plano institucional abstrato, mas em conflitos concretos, com impacto direto na vida das populações — conflitos que o próprio António José Seguro identificou como centrais no período que se abre.
Tempestade, emergência climática e falência do Estado
A gestão dos danos provocados pela recente tempestade constitui o primeiro grande teste político do pós-presidenciais. Mais do que um fenómeno excecional, trata-se de um episódio que evidencia a vulnerabilidade estrutural do país face a situações de catástrofe e a fragilidade de um Estado enfraquecido por décadas de cortes, privatizações e subfinanciamento dos serviços públicos.
As dificuldades na resposta da proteção civil, os atrasos nos apoios às populações afetadas e a tendência para empurrar responsabilidades para o mercado — seguros, soluções individuais, caridade — expõem os limites de um modelo que abandona os mais vulneráveis nos momentos de crise. Este cenário cria um terreno fértil para duas respostas opostas: por um lado, o discurso securitário e autoritário da extrema-direita, que explora o sentimento de abandono; por outro, a promessa centrista de “normalidade” e gestão técnica, que evita enfrentar as causas estruturais do problema.
Neste contexto, a extrema-direita procura capitalizar cada falha do Estado, apresentando-se como voz dos “esquecidos”, enquanto os partidos do regime tentam conter o conflito e reduzir a crise a um problema de eficácia administrativa. O que está em causa, porém, é uma escolha política: reforçar o Estado social e os serviços públicos ou continuar a gerir a crise à custa das populações trabalhadoras.
Reforma laboral: o verdadeiro campo de batalha
Entre os dossiês que o próprio Seguro apontou como prioritários está a reforma laboral anunciada pelo Governo. Este pacote representa um ataque direto aos direitos dos trabalhadores, aprofundando a precariedade, fragilizando a negociação coletiva e reforçando o poder patronal. Revelou-se de tal forma impopular que conseguiu empurrar as centrais sindicais para a primeira greve geral em mais de uma década.
Durante a campanha, Seguro foi claro quanto ao seu critério: promulgará a reforma laboral caso exista acordo em concertação social, isto é, caso o Governo consiga o aval da UGT. Este posicionamento é politicamente revelador. A UGT, dirigida por quadros historicamente ligados ao PS e ao PSD, tem cumprido precisamente esse papel ao longo das últimas décadas: legitimar, através da concertação, políticas que atacam os trabalhadores, oferecendo uma cobertura social e institucional às opções do Governo e das confederações patronais.
As declarações posteriores de Seguro, afirmando que, mesmo com o acordo da UGT, terá sempre de avaliar o resultado final do pacote laboral revisto pelo Governo, revelam uma abordagem mais cuidadosa, mas não alteram este dado de fundo. Não estamos perante um compromisso de defesa dos direitos laborais, mas perante uma gestão institucional do conflito, que aceita como ponto de partida um acordo com a central sindical mais integrada no regime.
É por isso que não é possível confiar em Belém como travão à ofensiva laboral. O eventual uso do veto presidencial ou de reservas públicas será sempre condicionado pela correlação de forças e pela lógica da concertação. O desfecho deste confronto não será decidido em gabinetes, mas na capacidade de mobilização dos trabalhadores, na resposta sindical e na construção de uma alternativa política que não aceite a lógica de “mal menor”.
Também neste terreno a extrema-direita procurará intervir, apresentando-se falsamente como oposição “anti-sistema”, quando na prática defende um projeto profundamente hostil aos direitos laborais e às organizações dos trabalhadores.
A disputa decisiva
As eleições presidenciais não resolveram as contradições centrais da situação política em Portugal. A derrota de André Ventura em Belém não significou a derrota da extrema-direita, assim como a vitória histórica de António José Seguro não representou uma recomposição sólida do PS.
O governo ganhou tempo, mas continua fragilizado; o PS dispõe agora de um novo instrumento político sem base social renovada; e o Chega consolida-se como força de desestabilização, ainda que com limites claros à sua capacidade de hegemonizar a direita. A disputa sobre quem lidera a oposição ao Governo permanece em aberto.
Já para os trabalhadores, o essencial no que toca ao agravamento das condições de vida será decidido menos no plano institucional do que no terreno das lutas concretas. É nesse terreno que se jogarão as batalhas decisivas do próximo período: na resposta às catástrofes, na defesa dos serviços públicos, na resistência ao ataque aos direitos laborais e às condições de vida da maioria.
Sem uma resposta à esquerda, combativa, enraizada e independente dos equilíbrios do regime, o descontentamento social continuará a ser canalizado por soluções autoritárias ou por falsas alternativas. É essa a alternativa que estamos empenhados em construir.