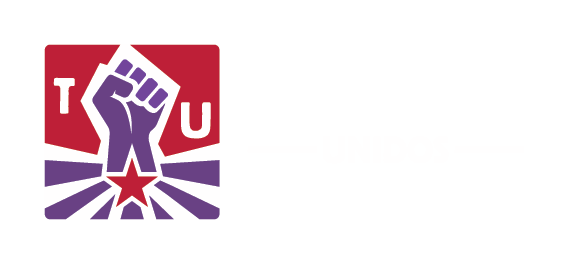As presidenciais de janeiro de 2026 acontecem num momento em que o regime português está mais exposto. A “estabilidade” do pós-25 de Abril — assente na alternância PS/PSD, na integração europeia e na contenção social por via da concertação — encontra-se numa fase de desgaste. É neste quadro que devemos olhar para estas eleições: não como uma disputa de personalidades ou “perfis”, mas como um momento em que diferentes frações do regime procuram reposicionar-se perante uma crise que não conseguem resolver.
Não por acaso, uma das marcas desta eleição é a fragmentação. À direita e à esquerda surgem candidaturas que se sobrepõem, competem pelo mesmo espaço e, nalguns casos, entram em choque com os próprios partidos que as sustentam. Há também uma profusão de figuras “anti-sistema” de fachada tentando capitalizar o descrédito generalizado da política institucional. Isto não é um detalhe, nem um simples excesso de candidatos. Quando o regime perde capacidade de integrar e canalizar o conflito social, surgem mais “salvadores”, mais promessas de ordem, de competência ou de autoridade. O resultado é confusão, dispersão do eleitorado e uma eleição mais fragmentada, com forte probabilidade de segunda volta.
A origem desta fragmentação é material e bem conhecida por quem trabalha. Nasce do choque entre o discurso oficial da estabilidade e do crescimento económico e a vida real da maioria: salários que não chegam ao fim do mês, rendas incomportáveis, serviços públicos a degradar-se e um governo que prepara um novo pacote laboral de ataque aos direitos. A corrida presidencial fala, assim, por si. A fragmentação não resulta de excesso de alternativas, mas da dificuldade do regime em se recompor num contexto de crise social prolongada. É este cenário de dispersão que molda a campanha presidencial e que ajuda a perceber quem são os candidatos, que interesses representam e que tipo de respostas procuram oferecer perante a instabilidade em curso.
O que representam as candidaturas centrais do regime?
Apesar do elevado número de candidaturas na primeira volta, a corrida presidencial acaba por se concentrar num conjunto restrito de nomes que dominam o debate público. São essas candidaturas que concentram atenções mediáticas e que exprimem as principais tentativas de resposta do regime à crise política e social em curso. À sua maneira, todas partem do mesmo ponto: um país atravessado pelo empobrecimento, pela contestação social e por um governo fragilizado, mas decidido a avançar com uma ofensiva contra os direitos. O que as distingue não é a rutura com esse quadro, mas a forma como propõem geri-lo. Seja pela via autoritária, pela moderação institucional ou pela autoridade tecnocrática, o objetivo comum é conter a instabilidade e garantir que o essencial se mantém.
Marques Mendes e Seguro: a promessa de previsibilidade para o bloco central
As candidaturas de Luís Marques Mendes e António José Seguro representam duas variantes da mesma resposta à crise: a tentativa de recomposição do bloco central que governou o país nas últimas décadas. Apesar de pertencerem a partidos diferentes, partilham o mesmo objetivo de garantir estabilidade institucional num contexto de crescente desgaste social e político, com sucessivos governos do PSD e do PS a serem incapazes de cumprir uma legislatura até ao fim. O discurso da moderação, do “bom senso” e do diálogo social surge aqui como ferramenta para conter a contestação e tornar politicamente sustentável a continuidade das políticas dominantes. Não se trata de travar a ofensiva em curso contra direitos, salários ou serviços públicos, mas de a gerir com menos ruído, mais previsibilidade e maior capacidade de mediação entre governo, patronato e organizações sindicais.
Estas candidaturas apresentam-se como o “porto seguro” face à radicalidade da extrema-direita e à instabilidade política. Mas, na prática, oferecem ao regime aquilo de que ele mais precisa neste momento: tempo e legitimidade para continuar a aplicar ataques estruturais, como o pacote laboral.
Gouveia e Melo: a falsa alternativa “acima dos partidos”
A candidatura de Henrique Gouveia e Melo surge como uma das mais fortes precisamente por se apresentar como exterior aos partidos e “acima da política”. Num contexto de descrédito profundo do PS e do PSD, este discurso encontra eco em setores cansados da alternância governativa e da incapacidade do regime em responder aos problemas do país. No entanto, a ideia de uma candidatura neutra ou independente não resiste à análise. Gouveia e Melo é apoiado por quadros influentes de ambos os grandes partidos e representa, na prática, uma tentativa de estabilização do regime por via da autoridade, da disciplina e da gestão tecnocrática. A sua popularidade não nasce de uma proposta de rutura, mas da promessa de ordem num momento de instabilidade. Em períodos marcados por greves, mobilizações e contestação social, esta aposta num perfil “eficaz” tende a traduzir-se em contenção da luta e desvalorização do conflito social.
Ao transformar problemas políticos e sociais em questões de comando e eficiência, esta candidatura evita enfrentar as causas estruturais da crise e reforça a ideia de que os problemas do país se resolvem com hierarquia e autoridade.
André Ventura: o que só se candidata para ter tempo de antena
A candidatura de André Ventura parte de uma base eleitoral consolidada, mas enfrenta uma taxa de rejeição muito elevada, que torna altamente improvável a sua vitória numa segunda volta. Isso não significa, porém, que a sua candidatura seja secundária. Pelo contrário: Ventura utiliza a campanha presidencial como plataforma para empurrar o debate político para a direita e normalizar uma agenda profundamente reacionária. Ao longo da campanha, a extrema-direita combina dois objetivos. Por um lado, apresenta propostas autoritárias e polémicas, como o reforço dos poderes presidenciais, alterando o regime atual. Por outro, sabe que dificilmente vencerá e usa essa posição para deslocar os termos do debate e condicionar as restantes candidaturas.
Ventura não precisa de ganhar para cumprir o seu papel. Basta-lhe chegar longe, impor temas, arrastar o debate para o terreno da repressão e da exclusão e forçar os restantes candidatos a responder nos seus termos. Nesse sentido, a sua candidatura funciona como instrumento para legitimar, por contraste, as soluções mais “moderadas” que o regime apresenta.
Como encarar estas eleições presidenciais?
À esquerda das candidaturas centrais do regime surgem propostas que se distinguem claramente da direita e da extrema-direita. Catarina Martins, António Filipe e André Pestana posicionam-se contra o pacote laboral, participam nas mobilizações e expressam, cada um à sua maneira, o descontentamento de setores que não se revêem na agenda dominante. Essa diferença existe e não deve ser apagada, sobretudo num contexto de ofensiva do governo com o pacote laboral, normalização do discurso reacionário e tentativa de disciplinar a classe trabalhadora, limitando as suas formas de luta.
Mas encarar estas presidenciais exige ir além da simples identificação de campos. É necessário olhar para que tipo de resposta política cada candidatura propõe e, sobretudo, para onde procura deslocar a expectativa de mudança. As candidaturas de Catarina Martins e António Filipe representam a esquerda institucional que, apesar do discurso crítico e da oposição a medidas concretas do governo, continua a ancorar a sua estratégia na pressão parlamentar, no veto presidencial e na defesa abstrata da Constituição. Trata-se de uma orientação já testada, que ao longo dos anos se revelou incapaz de travar privatizações, precariedade e ataques aos direitos, acabando por canalizar a contestação para dentro dos limites do próprio regime.
A candidatura de André Pestana parte de uma origem diferente, vinda do sindicalismo independente e de um processo real de luta, mas essa diferença de percurso não se traduz numa política diferente. Tal como os restantes candidatos da esquerda, recorre de forma sistemática à Constituição como resposta abstrata para problemas estruturais, como a crise da habitação, reforçando a ilusão de que o próprio regime contém os instrumentos para a sua superação. O que surge como “anti-sistema” acaba por se reduzir a um discurso antipartidos e à defesa do fim do financiamento público das forças políticas, deslocando o foco para uma crítica moral aos partidos e à “ganância”, sem enfrentar o poder económico nem as estruturas reais que determinam as políticas de exploração e ataque aos direitos.
Encarar estas presidenciais, portanto, não é escolher um “salvador” nem projetar nelas a solução para a crise social e política. É compreender que nenhuma destas candidaturas oferece, por si só, uma saída capaz de inverter o rumo do país ou de travar a ofensiva patronal em curso. O risco maior não é votar numa candidatura insuficiente; é alimentar a ilusão de que a mudança virá das instituições, quando a experiência recente mostra exatamente o contrário.
É neste quadro que os Trabalhadores Unidos assumem uma posição de voto crítico à esquerda do LIVRE. Um voto que reconhece diferenças reais face à direita e à extrema-direita, mas que recusa qualquer apoio incondicional ou transferência de confiança política. Um voto que serve para marcar um campo contra o pacote laboral e a ofensiva da direita e, ao mesmo tempo, para afirmar com clareza que a resposta decisiva não virá de Belém.
A experiência de 2025, e em particular da Greve Geral de dezembro, mostrou que a força dos trabalhadores aumenta quando as lutas deixam de estar isoladas e ganham escala. Encarar estas presidenciais à luz dessa experiência implica usar o momento eleitoral sem ilusões, subordinando-o à continuidade da luta social, ao reforço da organização pela base e à construção de uma alternativa política própria de quem trabalha. Não é em Belém que se decidirá o rumo do país, mas na capacidade de transformar essa experiência acumulada em força organizada.