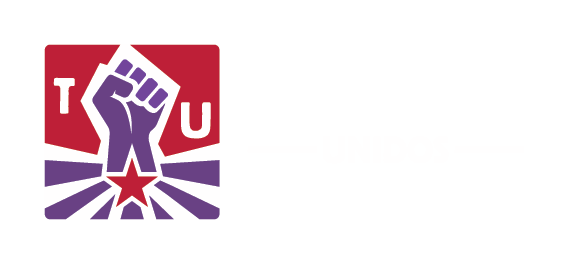As autárquicas de outubro confirmaram o que já se desenhava desde as legislativas de março: a recomposição do regime português à direita, mas sem verdadeira renovação política. A Aliança Democrática saiu vencedora, mas sem euforia; o PS resistiu à queda; o Chega cresceu, mas ficou longe de abalar o bipartidarismo.
É certo que as eleições locais favorecem quem já controla as máquinas autárquicas e não permitem uma transposição direta para o plano nacional — mas, mesmo nesse contexto, o essencial manteve-se: entre triunfos parciais e derrotas contidas, a política portuguesa continua presa ao mesmo eixo — entre quem governa para os patrões e quem se limita a disputar a sua gestão.
As urnas mostraram que o descontentamento social não encontrou ainda expressão política à altura. O PSD e o PS continuam a dividir o país entre si, com o Chega a capitalizar a raiva e a frustração sem conseguir transformar-se numa alternativa nacional sólida. Ventura prometeu trinta câmaras, ficou com três.
A esquerda, por seu lado, sai mais enfraquecida: penalizada tanto pelo desgaste do sectarismo do PCP como pela opção suicidária de se dissolver em coligações com partidos neoliberais e do arco da governação, como fez o BE.
O BE teve um dos piores resultados da sua história e tenta apresentá-lo como “modesto” ou “estável”, numa tentativa de contenção que já gera descontentamento entre a sua própria base. A CDU, por sua vez, sofreu uma derrota pesada: perdeu sete câmaras e todas as capitais de distrito, sinal de um recuo estrutural e da erosão do seu enraizamento autárquico histórico.
Enquanto as direções partidárias se preparam agora para o próximo capítulo — as presidenciais de 2026 —, o país real enfrenta um outro calendário: o da sobrevivência. Porque o verdadeiro campo de batalha não está nas sondagens, mas no Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026), apresentado pelo governo da AD como prova de “responsabilidade” e “estabilidade”.
Na verdade, é um orçamento de contenção social e austeridade disfarçada: aumenta as verbas para a defesa, congela a função pública e mantém os serviços públicos à míngua. O governo compra tempo; o povo paga a conta.
O Orçamento da estabilidade — e da austeridade disfarçada
O executivo de Montenegro apresentou um orçamento que se pretende “prudente”, mas é, acima de tudo, um orçamento de classe. As prioridades são claras: mais dinheiro para a defesa e para os compromissos da NATO, menos investimento real em saúde, educação e habitação.
A despesa com o Ministério da Defesa cresce muito acima da média dos restantes setores, enquanto o número de funcionários públicos será congelado em 2026 — um eufemismo para a degradação continuada dos serviços públicos.
Por ser um ano eleitoral, o governo anuncia descidas simbólicas do IRS e pequenos aumentos em prestações sociais para criar a ilusão de redistribuição. Mas trata-se de uma operação de cosmética orçamental. As famílias trabalhadoras continuarão a ver os seus salários devorados pela inflação, as rendas a subir e o acesso à habitação a ser cada vez mais precário.
Na saúde, o subfinanciamento crónico mantém hospitais à beira da rutura, empurrando milhões para os seguros privados. Na educação, as escolas continuam sem professores e as universidades vêm descongeladas as propinas, um sinal claro de elitização.
Enquanto isso, o governo promete um excedente orçamental e a redução da dívida pública — objetivos que agradam a Bruxelas e aos mercados financeiros, mas que significam cortes e contenção para quem vive do trabalho. Este é o velho truque do “rigor”: transformar o sacrifício social em virtude económica.
Uma oposição de fachada
A oposição parlamentar mostra o grau de esclerose do regime. O PS, que inventou este modelo de “austeridade com rosto humano” durante os anos de António Costa, não pode hoje contestá-lo sem se contradizer. Fala de “equilíbrio social”, mas tudo indica que permitirá a aprovação do Orçamento, direta ou indiretamente.
O Chega, por sua vez, repete a sua fórmula populista: critica o sistema em público, negocia nas sombras. Exige descidas de impostos e aumento de pensões, mas partilha com a AD a mesma lógica neoliberal — menos Estado social, mais repressão, mais negócios privados.
A Iniciativa Liberal e o Livre completam o retrato de um Parlamento dominado pelo consenso em relação ao projeto neoliberal das elites para o país. À direita, o discurso do empreendedorismo e da segurança; ao centro-esquerda, o moralismo europeísta. Em comum, a defesa das regras do sistema capitalista e dos tratados que impõem austeridade permanente.
O regime gere a sua própria crise
O que as autárquicas revelaram e o Orçamento confirma é que o regime vive uma contradição estrutural: precisa de estabilidade para sobreviver, mas essa estabilidade só é possível à custa do agravamento das desigualdades e do desmantelamento dos direitos sociais.
O governo procura comprar tempo, oferecendo migalhas para conter o descontentamento, enquanto transfere recursos para a burguesia e o complexo militar. Mas tempo é precisamente o que falta à maioria trabalhadora. As greves nos transportes, na saúde e na educação mostram que há uma indignação acumulada, à espera de uma direção consequente.
A responsabilidade da esquerda — da esquerda real, social, combativa — é transformar essa indignação em força organizada, sem cair na tentação de alianças eleitorais com os mesmos que nos trouxeram até aqui.
Spinum Viva: governação rima com corrupção
A nova vaga de revelações em torno da Spinum Viva veio recordar o que o discurso oficial tenta apagar: o capitalismo, inclusive o português, vive do compadrio, da promiscuidade entre o público e o privado, da corrupção institucionalizada.
O caso é apenas o exemplo mais recente de como as grandes empresas continuam a enriquecer à sombra do Estado, com contratos, concessões e adjudicações feitas à medida dos mesmos grupos que financiam campanhas e controlam meios de comunicação.
Enquanto se pede “rigor” aos trabalhadores e contenção às famílias, o Estado continua a abrir cofres para negócios opacos e redes de influência. O problema não é a exceção — é a regra. E é essa regra que o OE 2026 perpetua: mais dinheiro público para os de sempre, mais sacrifícios para quem trabalha.
Por uma alternativa que não se venda por uma ilusão de estabilidade
O desafio que temos pela frente é político e social: romper o consenso da austeridade, construir uma alternativa independente e enraizada no mundo do trabalho. A luta contra este Orçamento deve ser o ponto de partida para unir quem resiste — sindicatos, movimentos sociais, coletivos populares — numa frente única de ação contra os ataques à classe trabalhadora.
Não basta denunciar o orçamento: é preciso lutar por um programa alternativo — aumento geral dos salários e pensões, redução do tempo de trabalho sem perda de salário, investimento público massivo em saúde, habitação e educação, reversão das privatizações e taxação das grandes fortunas. Um programa que diga, com clareza, que a riqueza existe e que o problema não é a falta de dinheiro, mas o destino que lhe dão.
O governo compra tempo. Mas se não nos organizarmos, esse tempo será usado contra nós. O que está em causa não é apenas um orçamento: é a tentativa de adiar a crise de um regime que já não tem nada a oferecer à maioria. A resposta está nas ruas, nos locais de trabalho e nas mãos de quem não aceita pagar, mais uma vez, a conta da estabilidade dos de cima.