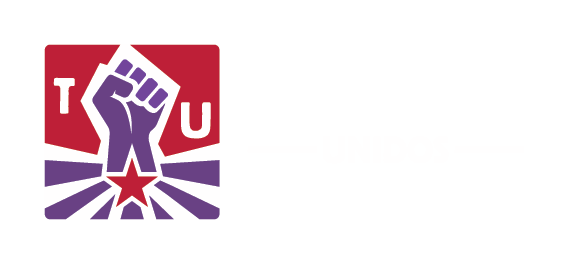O PSD e o CDS querem apagar da lei o conceito de violência obstétrica. Mas isto não é uma questão de palavras. É uma ofensiva política e ideológica contra o reconhecimento de direitos fundamentais das mulheres e pessoas gestantes. É a tentativa de manter intocável uma ordem social onde os corpos das mulheres — especialmente das mulheres trabalhadoras, migrantes, negras e precárias — continuam a ser tratados como propriedade institucional, sem voz nem autonomia, sem direito ao cuidado digno e ao consentimento informado. Querem branquear décadas de práticas desumanizantes nos serviços de saúde, preservar a impunidade de quem as pratica e silenciar quem as denuncia.
A Lei da Violência Obstétrica, aprovada em março deste ano, mesmo com os seus limites, foi uma conquista arrancada à força. Pela primeira vez, a legislação portuguesa reconheceu práticas como a episiotomia de rotina e o abuso de medicalização como formas de violência institucional. Práticas há muito normalizadas nos hospitais — mas que, na verdade, são abusos sobre corpos vulnerabilizados, que desrespeitam a integridade corporal e a dignidade das gestantes. Práticas que têm rosto e classe: são vividas sobretudo pelas mulheres pobres, racializadas, imigrantes, muitas vezes não acompanhadas ou desconhecedoras dos seus direitos.
A proposta do CDS, que vai ser discutida na especialidade, quer revogar a lei e apagar o conceito do ordenamento jurídico. A do PSD, rejeitada no plenário da Assembleia, pretendeu suavizá-lo até à irrelevância, substituindo a linguagem do reconhecimento da violência por eufemismos burocráticos como “intervenções desnecessárias”, apagando a dimensão de violência, desigualdade e opressão institucional. Ambas pretendem apagar da lei as referências a práticas concretas — como a episiotomia de rotina —, mesmo quando estas são condenadas pelas diretrizes da OMS, da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e do próprio relatório FEMM do Parlamento Europeu.
A ofensiva reacionária e o papel das Ordens profissionais
A proposta de revogação da Lei da Violência Obstétrica não aparece do nada. Está inserida numa ofensiva reacionária mais ampla, que envolve partidos de direita e estruturas corporativas como a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. Estas entidades lançaram uma petição pública contra a lei, acusando-a de “criar um clima de medo” e estigma entre os profissionais e as gestantes. Mas o que está realmente em causa é outra coisa: a tentativa de preservar o poder de agir sem escrutínio nem critério, sem regulação democrática, sem responsabilização – que se torna evidente pela falta de soluções alternativas apresentadas por estas estruturas. É a defesa de um modelo autoritário de prática médica, verticalizado, patriarcal e opaco.
O argumento da “autonomia profissional” é usado como escudo ideológico para encobrir práticas que violam os direitos humanos mais básicos. Em nome dessa “autonomia”, pretende-se que os profissionais possam continuar a intervir sobre os corpos das mulheres sem consentimento informado, aplicar procedimentos já condenados internacionalmente, negar informação ou tratar as utentes com desrespeito. A autonomia profissional, num sistema democrático e público, deve significar liberdade para exercer cuidados com qualidade e ética — não licença para humilhar, abusar ou violentar. Mas nas mãos do corporativismo médico, essa autonomia transforma-se em impunidade institucionalizada.
Este bloqueio não é novo. É o mesmo que se viu quando se começou a criminalizar a violência doméstica, ou quando se reconheceu a violação conjugal como crime, ou ainda quando se denunciou o racismo estrutural nas instituições. Sempre que os direitos das maiorias oprimidas ganham nome e voz, surgem setores a dizer que “não há evidência”, que “não se pode generalizar”, que “não é o momento certo”. O que estas reações revelam não é prudência — é privilégio. Um privilégio construído à custa do silêncio, do medo e da dor das utentes.
Mas os tempos mudaram. As mulheres e pessoas gestantes que antes eram silenciadas organizaram-se. Denunciaram. Fizeram ouvir os seus testemunhos. Deram rosto e corpo a uma violência que há demasiado tempo era escondida entre paredes hospitalares e relatórios técnicos. Hoje, recusam ser tratadas como objetos. Querem decidir sobre os seus corpos, exigir respeito, participar nas decisões. A Lei da Violência Obstétrica é expressão — ainda que parcial — dessa transformação.
No passado dia 11 de julho, quando a assembleia votou estas propostas, foi essa voz que se fez ouvir – os diferentes coletivos e organizações que se expressaram contra as propostas do governo provocaram um recuo real – obrigaram o governo a reconhecer que havia “necessidade de uma discussão mais profunda sobre a lei”. Esta luta ainda continuará, mas o repúdio público impediu a direita de avançar com a sua investida por agora.
Esta lei está a ser atacada porque rompe com décadas de naturalização da violência institucional. Porque ameaça estruturas de poder cristalizadas no sistema de saúde. Porque obriga à mudança. E porque, ao fazê-lo, dá força a uma luta maior: a de todas as mulheres trabalhadoras por dignidade, justiça e direitos nos serviços públicos.
A luta é por dignidade, justiça e um sistema de saúde ao serviço das mulheres trabalhadoras
Não basta manter a lei. A lei que temos hoje ainda não protege as utentes de várias práticas condenadas pelas autoridades de saúde internacional, como a manobra de Kristeller ou a administração farmacológica não consentida. E, na prática, as consequências do que já está estipulado são migalhas: é preciso regulamentar a lei com urgência, reforçá-la com meios concretos e garantir a sua aplicação com mecanismos de fiscalização independentes e com participação efetiva das utentes e dos movimentos feministas.
O reconhecimento jurídico da violência obstétrica como forma de violência institucional de género é um passo necessário para que os abusos deixem de ser silenciados e passem a ser prevenidos, punidos e reparados. Sem isso, a lei corre o risco de se tornar letra morta — mais um direito no papel, sem eficácia na vida real. Mas a luta vai muito além da letra da lei. Porque violência não é só o que acontece na sala de partos.
Violência é o encerramento de blocos de parto e maternidades, obrigando mulheres a atravessar dezenas de quilómetros em trabalho de parto. Violência é ter urgências a funcionar a meio gás, profissionais exaustos e precários, turnos intermináveis e condições indignas. Violência é a ausência de acompanhamento adequado, é o abandono institucional, é o descaso perante a dor e a dignidade de quem gera, pare e cuida.
A violência obstétrica não é apenas consequência de um sistema de saúde em colapso — mas esse colapso agrava e perpetua essas práticas. Mesmo num SNS bem financiado, a autoridade médica pode servir de escudo para práticas autoritárias e sexistas, normalizadas como cuidado técnico. O sexismo institucional que atravessa a saúde obstétrica precisa de ser combatido diretamente — não se combate só com mais investimento, mas também com formação, regulação democrática e responsabilização.
Mas sem um SNS robusto, gratuito, público, universal e gerido democraticamente, não há condições materiais para garantir partos dignos, cuidados seguros e respeito pelos direitos das utentes. Um sistema que opera segundo a lógica da produtividade, da hierarquia autoritária e do lucro trata utentes e profissionais como números descartáveis. Por isso, é preciso romper com esta lógica e recentrar o sistema nas necessidades das mulheres trabalhadoras e na dignidade do cuidado.
É preciso um programa de emergência para a saúde materna e obstétrica: reabertura imediata dos serviços encerrados, reforço das equipas de saúde com vínculos estáveis, criação de casas de parto públicas e integradas no SNS, e garantia do direito ao acompanhamento, à informação, ao consentimento e ao respeito. Só assim poderemos garantir partos dignos, cuidados seguros e o fim da violência obstétrica.
Por isso, exigimos:
- Extensão, manutenção e reforço da Lei da Violência Obstétrica, com regulamentação urgente e aplicação efetiva, incluindo mecanismos de fiscalização independentes e com participação das utentes e dos movimentos feministas;
- Formação obrigatória, contínua e interdisciplinar para todos os profissionais de saúde, centrada em direitos humanos, práticas humanizadas e combate às desigualdades;
- Reconhecimento jurídico da violência obstétrica como forma de violência institucional de género, tal como definido pelas organizações de defesa dos direitos humanos;
- Reabertura e reforço dos blocos de parto, urgências e serviços de ginecologia/obstetrícia, com cuidados de proximidade durante a gravidez, o parto e o pós-parto, assegurando a dignidade, o consentimento e a integridade corporal das utentes;
- Fim da precariedade no setor da saúde, com contratação estável, aumento dos salários e valorização das carreiras profissionais.
Pela construção de um verdadeiro movimento feminista e socialista
A luta contra a violência obstétrica não é um tema setorial nem uma causa moral abstrata. É parte integrante de uma batalha maior: contra a precariedade laboral que esgota profissionais e desprotege utentes, contra o racismo que transforma corpos racializados em alvos preferenciais da negligência e da violência, contra o sexismo que ainda estrutura as instituições do Estado, contra a destruição do Serviço Nacional de Saúde ao serviço da mercantilização da vida. É uma luta pela dignidade, pelos direitos e pela vida das mulheres trabalhadoras — e, com elas, das suas famílias e comunidades.
A resposta não virá de “boas práticas” isoladas nem de apelos à conciliação com os setores que todos os dias atacam os nossos direitos. Não se enfrenta a ofensiva conservadora apenas com notas de repúdio tímidas nem com alianças com os partidos que destroem o SNS e abandonam as mulheres à violência institucional. É preciso dizer com clareza: esta luta não se ganha nos gabinetes — ganha-se nas ruas, nas assembleias, nos hospitais, nos locais de trabalho, nas escolas, onde as mulheres resistem todos os dias.
Precisamos de um verdadeiro movimento feminista de combate: enraizado na classe trabalhadora, articulado com os sindicatos e os movimentos sociais, anticapitalista, antirracista e internacionalista. Um movimento que rompa com o feminismo liberal de ONG e que enfrente, de frente, as estruturas de poder que sustentam a opressão patriarcal. Um movimento que lute não apenas por leis — mas por transformar as condições materiais de vida das mulheres, com serviços públicos de qualidade, salários dignos, tempo livre e poder de decisão.
Como dizia Rosa Luxemburgo: “quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”. Que esta luta contra a violência obstétrica seja mais do que uma exigência legislativa. Que seja um passo firme na construção da força organizada das mulheres e de toda a classe trabalhadora, rumo a uma sociedade onde nenhuma vida seja descartável e todos os corpos sejam respeitados.