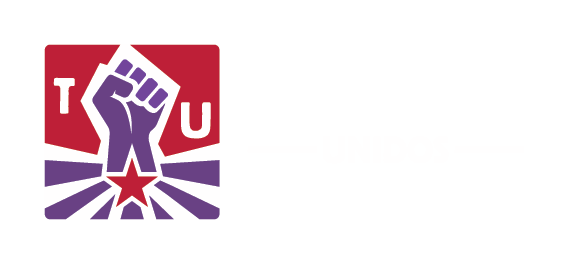As últimas semanas deixaram um rasto de destruição em várias regiões do país. A tempestade Kristin, que atingiu Portugal há cerca de uma semana, foi uma das mais severas da história recente: deixou centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, vastas áreas isoladas sem água e comunicações, bairros com telhados arrancados e estradas bloqueadas, sobretudo nos distritos de Leiria, Coimbra e Santarém, onde há populações que continuam há vários dias privadas de serviços básicos e com casas e infraestruturas gravemente danificadas. O impacto foi profundo e sentiu-se em todo o país.
Antes que muitas comunidades conseguissem recuperar deste choque, o território voltou a ser atingido pela tempestade Leonardo. Desta vez, foram as chuvas intensas, as cheias e as derrocadas que agravaram ainda mais a situação, com casas invadidas pela água, estradas novamente cortadas, encostas a ceder, árvores a bloquear vias, fábricas paradas e novas falhas prolongadas na rede elétrica e nas comunicações. Há famílias desalojadas, trabalhadores impedidos de ir trabalhar, pequenos negócios parados e prejuízos económicos que se acumulam dia após dia — muitas vezes sobre estragos ainda não resolvidos da tempestade anterior.
Em vários concelhos, barragens e rios continuam sob forte pressão, mantendo o risco de agravamento nos próximos dias, numa altura em que a recuperação dos danos causados pela Kristin está longe de concluída. E, antes mesmo de o país recuperar, já está anunciada a chegada de uma nova tempestade, Marta, apontando para mais um episódio de instabilidade extrema.
Nada disto pode ser tratado como um simples imprevisto. Kristin e Leonardo juntam-se a uma sequência recente que inclui Joseph e Ingrid, todas acompanhadas da mesma narrativa oficial que fala de fenómenos excecionais, respostas exemplares e sistemas a funcionar. Mas a realidade desmente completamente o discurso do governo. Nos incêndios, no apagão e agora nas tempestades sucessivas, repete-se o mesmo padrão: improviso, respostas tardias e populações deixadas à sua sorte. É isso que se voltou a verificar na resposta imediata do governo às catástrofes das últimas semanas.
Um Estado ausente e as comunidades a segurar o país
A reação do governo foi, outra vez, tardia e insuficiente. As decisões chegaram depois dos estragos, quando já não evitavam perdas nem sofrimento. No caso da tempestade Kristin, houve populações que passaram vários dias sem eletricidade, água ou comunicações sem que tivesse sido garantida uma resposta imediata e eficaz. A avaliação da dimensão real da catástrofe foi lenta, os reforços chegaram tarde e o governo insistiu em transmitir uma imagem de controlo que não correspondia à realidade vivida no terreno.
A Proteção Civil e o Exército foram acionados, mas de forma claramente tardia e com limitações evidentes. Profissionais dedicados fizeram o que puderam, muitas vezes em condições difíceis e com meios insuficientes, mas a resposta revelou fragilidades antigas: falta de planeamento, falhas de coordenação e ausência de equipamentos básicos nas primeiras fases da emergência. Em várias localidades, a chegada de geradores e de apoio logístico essencial ocorreu apenas depois de dias consecutivos sem eletricidade e comunicações, deixando famílias dependentes de redes destruídas e entregues à sua própria sorte. Nada disto é responsabilidade dos trabalhadores destes serviços — muitos deles exaustos e a dar tudo — mas sim de um governo que, ano após ano, desinveste na prevenção e no reforço dos meios públicos de emergência.
Enquanto isso, membros do governo multiplicaram declarações e gestos profundamente desligados da vida concreta de quem perdeu casa, trabalho e segurança. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, mostrou-se incapaz de responder a perguntas básicas sobre os planos de emergência e chegou a qualificar a resposta à catástrofe como uma “aprendizagem coletiva” — inclusive perante autarcas desesperados com a destruição e a ausência de apoio no terreno. O ministro da Economia, Castro Almeida, confrontado com a necessidade de apoios imediatos a famílias que perderam tudo, limitou-se a afirmar que as pessoas tinham acabado de receber o salário de janeiro, como se isso pudesse substituir uma resposta pública de emergência.
Também a atuação do ministro da Defesa, Nuno Melo, foi marcada pela encenação e pelo vazio. Depois de dias sem uma mobilização eficaz do Exército, deslocou-se à região de Leiria não para junto das populações afetadas, mas para o meio de um pinhal, onde deu uma entrevista rodeado de militares. Populares denunciaram de imediato que o Exército ali estava apenas para servir de pano de fundo mediático e que, mal o ministro abandonou o local, os militares também se retiraram — sem qualquer apoio concreto às populações. Já o ministro da Presidência, Leitão Amaro protagonizou um dos episódios mais simbólicos deste desligamento: gravou um vídeo no seu gabinete, transmitindo uma imagem de intensa atividade governativa, enquanto no terreno as populações continuavam abandonadas e os meios tardavam em chegar.
Perante o vazio do Estado, foi a solidariedade popular que respondeu nos primeiros dias e evitou uma catástrofe ainda maior. Em Leiria e noutras zonas duramente afetadas, foram voluntários, associações locais, coletivos e simples vizinhos que se organizaram para levar alimentos, água, roupas, geradores, combustível e outros bens essenciais a populações que estavam sem eletricidade, sem comunicações e sem qualquer apoio institucional. As campanhas solidárias multiplicaram-se, os pontos de recolha encheram-se rapidamente e a ajuda chegou muitas vezes antes de qualquer resposta organizada do Estado. Tal como se viu recentemente em Valência, quando os serviços públicos falham ou chegam tarde, são as próprias populações que se auto-organizam para garantir o básico e proteger quem ficou para trás.
Essa solidariedade merece reconhecimento e elogio, mas não pode ser romantizada nem usada para branquear responsabilidades políticas. Não deveria caber às populações garantir aquilo que é essencial à sobrevivência: alimentos, energia, água, abrigo, apoio imediato. O facto de a ajuda popular ter sido decisiva nos primeiros dias expõe, de forma brutal, a incapacidade do governo em cumprir a sua função mais elementar: proteger as populações quando tudo falha.
Escolhas políticas que transformam tempestades em tragédias
Os desastres repetem-se porque há problemas de fundo que continuam por resolver. O ordenamento do território em Portugal é marcado por décadas de abandono, desinvestimento e decisões tomadas ao serviço de interesses privados. O abandono do interior isola populações envelhecidas e fragilizadas, enquanto a construção em zonas de risco — agravada pela nova lei dos solos, que flexibiliza regras de proteção, incluindo a ocupação de leitos de cheia — cria as condições ideais para que fenómenos extremos se transformem em tragédias sociais.
A isto soma-se o enfraquecimento da resposta pública a situações de calamidade. Anos de desinvestimento reduziram a capacidade de planeamento, prevenção e intervenção, deixando o país mais vulnerável quando os fenómenos extremos ocorrem. A privatização de infraestruturas essenciais, em particular da rede elétrica e das comunicações, agravou ainda mais esta fragilidade: serviços vitais passaram a responder prioritariamente à lógica do lucro, revelando-se incapazes de garantir continuidade e rapidez de resposta quando mais são necessários.
Tudo isto é agravado pela recusa política em assumir o chamado “novo normal”. A crise climática traduz-se em fenómenos cada vez mais intensos e frequentes, e ignorar essa realidade tem custos diretos. O chamado efeito avalanche também é bem conhecido: incêndios que fragilizam os solos, seguidos de episódios de chuva intensa que provocam derrocadas, enxurradas e cheias. O que aconteceu em Portalegre é um exemplo claro disto mesmo.
Na Serra de São Mamede, os incêndios do verão de 2025 destruíram a cobertura vegetal e deixaram os solos instáveis; agora, as chuvas intensas associadas à tempestade Leonardo provocaram derrocadas e uma enxurrada de lama que atingiu a cidade. Não se trata de uma coincidência nem de um fenómeno imprevisível, mas de uma consequência direta da ausência de prevenção, de gestão do território e de planeamento a médio prazo. Ignorar estas causas estruturais é condenar o país a viver numa sucessão permanente de catástrofes anunciadas.
Uma resposta à altura da catástrofe
Perante a dimensão da catástrofe, não bastam discursos nem promessas vagas. É necessária uma resposta política imediata que coloque no centro as necessidades das populações afetadas. O primeiro passo tem de ser garantir apoio direto a quem perdeu casa, rendimentos e meios de subsistência. Isso passa, desde logo, pela isenção temporária — e não simples moratórias — do pagamento de empréstimos para famílias e pequenos negócios atingidos, evitando que a tragédia se transforme numa espiral de endividamento e pobreza.
A reconstrução das casas, infraestruturas e equipamentos públicos não pode ficar refém da burocracia nem da lógica do lucro. Tem de ser rápida, eficaz e orientada pelo interesse público, recorrendo, sempre que necessário, à requisição civil das construtoras, para assegurar que ninguém fica meses ou anos à espera de condições mínimas de habitação e segurança. Ao mesmo tempo, é indispensável um reforço estrutural da Proteção Civil, centrado na prevenção, no planeamento e numa capacidade real de resposta. Isso implica investimento sério, meios permanentes, coordenação eficaz e preparação para fenómenos extremos, que já não são excecionais.
O ordenamento do território tem igualmente de ser reorganizado com base no conhecimento científico e no interesse coletivo, pondo fim à construção em zonas de risco, à flexibilização irresponsável das regras de proteção e ao abandono da gestão florestal e ribeirinha. Nos setores estratégicos, a catástrofe voltou a expor um problema central: infraestruturas essenciais não podem estar subordinadas à lógica do lucro. A rede elétrica e as comunicações revelaram fragilidades graves precisamente quando eram mais necessárias. Recuperar o controlo público destas redes, através da nacionalização, não é uma questão ideológica abstrata — é uma condição concreta para garantir segurança, continuidade de serviços e resposta eficaz em situações de emergência.
As tempestades mudam de nome, mas a origem da catástrofe mantém-se. Não se trata de azar nem de fatalidade natural, mas do funcionamento de um sistema ao serviço do lucro, de escolhas políticas feitas sob a lógica do capitalismo: desinvestimento, privatizações, abandono da prevenção e desprezo pela vida de quem trabalha. No capitalismo, os prejuízos socializam-se e os lucros privatizam-se. Esta lógica tem de ser rompida. Só a inversão destas escolhas, com planeamento público, controlo democrático e prioridade absoluta às necessidades populares, pode travar a repetição da tragédia. E isso só se consegue com um governo dos trabalhadores. É por essa alternativa que lutamos.